N esta conversa, aliás, neste encontro, estou com a designer de interiores Nini Andrade Silva. De frases curtas, poderosas, com eco. Refletidas ao longo das mais de seis décadas de uma vida plena, realizada, entregue à vocação que sempre soube ter. Na casa onde cresceu, havia uma escola. Uma escola em que não andou, mas que a moldou enquanto filha dos professores. Ao lugar onde nasceu, a Madeira, atribui o oxigénio que lhe permite viver, referindo-se à ilha com um desassombro desassossegado, curioso, artístico, talvez, até pueril. Na ilha, que já gerou muitas perguntas pelo mundo, mantém o contacto com as próprias raízes e redescobre, eternamente, o que importa. A nossa conversa ocorreu no Coletivo 284, em plena Exposição Oficial da Lisbon Design Week 2025, que juntou arte, design e matéria numa proposta lançada por Paulo André, o Diretor Artístico do próprio Coletivo 284. Universos criativos aparentemente opostos dialogaram num ambiente improvável, simulando o fundo do mar e fazendo jus ao projeto de responsabilidade social de Nini, Associação Garota do Calhau. À entrada deste mergulho autêntico, quando avistei a Nini, dirigiu-se imediatamente a mim lembrando-se da única vez em que, há uns bons 10 anos, havíamos estado juntas, na Madeira: «Já estivemos juntas, não já? No Savoy». Petrifiquei. Era eu que me poderia lembrar desse momento, não ela. Mas isso, apenas na minha cabeça. Porque pela sua memória, este era já o nosso segundo encontro.
Como é que encara estar entre os melhores do mundo?
[Gargalhada] Dizem-me isso e eu sei que tenho, efetivamente, alguma coisa diferente, mas há muitas pessoas com coisas diferentes. E, por isso, encaro a diferença como algo natural. Porque, para mim, na vida, vamos subindo um degrau, dois degraus, três degraus, por aí adiante. Talvez, quando olhe para trás, me dê vontade de chorar, ao pensar que não foi fácil chegar aqui e que não fui apenas eu… Há, afinal, tantas pessoas à minha volta. Costumo dizer que a Nini Andrade Silva já não sou eu. Nini Andrade Silva refere-se a tantas pessoas, desde logo a todas as pessoas que estão à minha volta. Aqui, há emoção. A emoção de pensar o que fizemos, o que passámos, as alegrias e as dificuldades. Tudo isso, para mim, é grande. Não sou uma pessoa especial no mundo. Somos todos especiais, cada um à sua maneira.
Ser grande e simples. Este é um valor fundacional que traz de casa da família?
É, mas se reparar, no mundo, as pessoas que conseguiram ir mesmo longe… são simples. Acho que as pessoas que não são simples são as que ainda não conseguiram chegar lá. Porque quando a pessoa consegue o que idealizou… Lembro-me que, quando comecei a trabalhar, sempre quis ser quem sou. Eu sabia por onde caminhar, por aquilo que queria ser. E, por isso, tornou-se simples.
A minha terra é como se fosse a minha mãe.
A propósito desse «sempre quis ser quem sou», situemo-nos nas suas raízes. A sua mãe deixava-a pintar as paredes lá de casa. Esta liberdade contribuiu para a convicção sobre o que queria ser?
Claro. Eu tinha uma avó, que dizia, quando eu ia a qualquer sítio: «Nini, foste a melhor, não foste?». E ter alguém a dizer isto é, simplesmente, espetacular. É o inverso de ter alguém a dizer «não faça», sem acreditar. Na minha casa, sempre acreditaram no que fazíamos. E tanto os pais, como a avó, eram fantásticos. É fácil quando se tem um apoio que vem de trás.
Há aí uma nota muito importante sobre a família. Como é que descreve a família que a impulsionou a estar sempre no melhor?
A única maneira que posso descrever é dizendo que se voltasse a viver, gostava de viver na mesma família. Ora, isto diz tudo.
Eu tenho amigos no mundo inteiro. Quando observo alguém, em Portugal, a precisar de alguma coisa, sou a primeira a ir ajudar, porque sei o que é estar sozinha num país.
Como é que a Nini do mundo se relaciona com a sua terra Natal, a Madeira? A ilha…
É muito engraçado. A minha terra é como se fosse a minha mãe. Viajo, por norma, muito, mas houve alturas em que estava quase sempre, sempre a viajar. E um dia disse que ia vender a minha casa, porque não fazia sentido mantê-la estando sempre fora. E tive um amigo que me disse: «Nini, não faças isso. Porque uma pessoa sem raiz, está perdida. Tu tens de pertencer a algum lado». E eu, de facto, pertenço à Madeira. Sou do mundo, adoro o mundo, mas preciso de voltar à Madeira para me sentir. Às vezes, vou e volto cheia de forças. Eu vou lá respirar. E respiro muito na minha terra.
Gosto, particularmente, dessa frase [sorriso]. E o que leva da Madeira para o Mundo?
Eu levo o ar que eu preciso. Sabe o que é? Eu chego a casa e vejo o Oceano Atlântico. Aliás, o meu vizinho é o Oceano Atlântico. É lá que estão a minha família e os meus amigos que conheci de criança. Nasci num sítio pequeno, que me permite continuar a ver as raízes e a observar a história das pessoas que chegam e vão, mesmo as que morrem (lido muito bem com a morte). Quando se está numa cidade muito grande, por vezes, perde-se o contacto com a história das pessoas…
Perde-se o horizonte…
Perde-se o horizonte. E eu ali tenho o meu horizonte, que é tão importante para mim.
Na realidade, o que procuro ser e incutir na minha equipa é a criatividade e não a moda. O que é moda, passa rapidamente.
Ficou-me a ideia fundacional de que, na casa dos seus pais, havia uma escola. Que marca este traço de vida lhe deixou? Ter vivido numa casa com uma escola dentro…
Sim [sorriso rasgado]. Os meus pais eram professores. Tínhamos a casa que dava a volta à escola e tínhamos um salão enorme, com 40 crianças de manhã e 40 crianças à tarde. E eu cheguei a ir para essa escola durante uma semana, mas eu era muito… Quando a minha mãe saia da sala de aulas, eu dizia para todos: «Vamos todos gritar!». E como eu era a filha da professora, todos gritavam! Ora, a minha mãe sabia que isto tinha saído de mim e, por isso, eu tinha muitos castigos. Combinaram então que eu teria de ir para um colégio. Fui para o colégio e, sempre regressava a casa, à tarde, continuava a ter 40 crianças para brincar. E este ambiente levou a que fosse extrovertida, porque tive muitas pessoas com quem conviver e que olhavam para mim como a filha dos professores. E isso também fez de mim uma líder.
Façamos o paralelismo com a sua irmã. Lembro-me de uma referência sua à sua irmã: «Era tudo muito correto com ela». A Nini “despenteou” a família, pela sua irreverência?
A minha irmã Luísa [sorriso]. Ela aprendeu a ler aos cinco anos e, sabendo já ela ler, sendo eu mais nova, dizia que já não precisava de o fazer… Ela lia muito e eu queria era andar a brincar na ribeira. O meu irmão Ricardo acompanhava-me sempre para me proteger. Quando comecei a fazer mais viagens, a minha irmã, com uma agência de viagens, é que passou a controlar e a cuidar das minhas viagens. Lembro-me, até, de um dia que fui para Singapura e fez mau tempo. Já não pude seguir para Singapura e, no aeroporto de escala em Zurique, encontrei uma senhora que fazia peles na China que me perguntou se eu queria ir para a China. Liguei à minha irmã e disse: «Luísa, vou para a China». E ela disse: «Não vais, não». E eu respondi, prontamente: «Se não me mudares a passagem, eu vou na mesma». Onde quer que eu estivesse, do outro lado do mundo, se lhe ligasse com um tema para resolver, ela atendia imediatamente, ainda que nem sempre me quisesse à primeira fazer as vontades…
A Nini é a mulher que toma decisões, como ir de repente para a China, com uma desconhecida, num instante…
Sim, sem problema nenhum. Já dei a volta ao mundo sem conhecer as pessoas [sorriso convicto].
Mesmo com a falta de previsibilidade e o controlo dos humanos mais tradicionais…
Mas havia uma coisa muito interessante. As embaixadas deram-me sempre um grande suporte. Quando eu chegava a cada país, falava com as embaixadas e sentia essa rede. Lembro-me de cada destino em que fui sempre tão bem recebida, na China, nas Filipinas, na Tailândia, em todo o lado. Tinha a minha família em Portugal, as embaixadas nos países e a minha loucura de partir à descoberta… E a amizade que eu arranjava com as pessoas é muito interessante. Eu tenho amigos no mundo inteiro. Quando observo alguém, em Portugal, a precisar de alguma coisa, sou a primeira a ir ajudar, porque sei o que é estar sozinha num país.
É também o seu eixo humanista, o valor a partir do qual vê o mundo e se relaciona com ele…
Sim, isso mesmo.
Que é depois decalcado na sua obra.
Exatamente.
A história da Garota do Calhau inspira-se nos miúdos que andavam nas praias e que eram conhecidos pelos garotos do calhau. E eu, em criança, queria ser um deles: poder andar com liberdade na rua, poder mergulhar, poder regressar à hora que eu quisesse.
Vamos, precisamente à obra, à condição de Designer de Interiores. Nini, posso defini-la pela capacidade de desenhar espaços interiores para criar ambientes que façam contar histórias?
Eu crio obras, não faço decoração. Em primeiro lugar, sou designer. Na realidade, o que procuro ser e incutir na minha equipa é a criatividade e não a moda. O que é moda, passa rapidamente. E o que eu prefiro é deixar obras que não se gastem e fazer com que as pessoas as mantenham.
Para uma designer como a Nini, o que significa liderar uma equipa de outros designers? O que é que lhes diz? Como lhes diz?
Já somos muitos. Tenho o Design Centre, o atelier em Lisboa, na Madeira e, agora, temos também uma pessoa no Porto. Já estive em vários pontos do mundo com a sociedade com o Miguel Saraiva. Somos hoje, no atelier, 55 pessoas. E volto ao início: a Nini são essas 55 pessoas mais as outras que se juntam a partir de outras áreas, como as carpintarias ou outras…
A multidisciplinaridade de que o design se faz…
Isso mesmo. Somos mesmo muitos. Quando faço uma obra, acabo por ganhar tanta amizade com as pessoas. Repare, um hotel pode levar entre 3 a 5 anos a decorar. O que se constrói, ali, também é uma família. A família do design, que vou encontrando pelo mundo inteiro.
O mar, para mim, é um vizinho. Eu não sei viver sem o mar. Lembro-me de quando era mais nova, quando subia a uma montanha, o que queria avistar era sempre o mar, onde quer que estivesse. Era do mar que andava à procura.
Como é que define o conceito de hotel, um lugar aonde as pessoas vão para ficar pouco tempo, mas que se pretende que seja uma experiência…
A hotelaria, para nós, é o lugar a partir do qual as pessoas nos conhecem. Mas também fazemos casas privadas, lindas. Mas, de facto, é pelos hotéis que as pessoas mais nos conhecem. E cada um é um. Se for no Brasil, é uma coisa. Se for na Colômbia, onde temos 9 hotéis, é outra. O hotel que fazemos em cada país tem de pertencer à história daquele país. Quando fomos chamados para fazer uma cadeia de hotéis, na Colômbia, na sessão de apresentação, vestimo-nos com os fatos tradicionais colombianos, para as pessoas perceberem as raízes do seu país. Vestimos, então, umas blusas com muitos folhos, os chapéus volteados, as saias redondas… E, assim, fomos à reunião. Quando chegámos, deveriam estar umas 20 pessoas, com um ar executivo. Explicámos, com os nossos fatos vestidos, o que era a Colômbia, a influência das flores, o café, as pedras, o ouro e, no final, pusemos uma música linda, “Como te quiero, Colombia”. Foi tão bonito! As pessoas sorriam, outras tinham lágrimas nos olhos. Foi uma emoção. E o dono da cadeia disse: «São elas que vão fazer isto. Agora, discutam o preço com elas». E o que é que nós fizemos? Pegámos na raiz do país. E, agora, sou cônsul da Colômbia também um pouco por isso. Recebi, ainda, uma medalha de Cavaleiro da Ordem Colombiana. A verdade é que usei o artesanato em todos os hotéis. E isto fez toda a diferença.
Contribuiu para que ganhassem, com esta experiência, mais orgulho da sua própria identidade, cultura e beleza…
Sim, sem dúvida. Por exemplo, fomos também ao Brasil fazer o W Marriott, em São Paulo, na Rua Funchal. Eu atravesso o mundo e vou fazer um hotel na Rua Funchal… E também aí aplicámos a história de São Paulo e do Brasil. Para mim, é isso que é bonito. Vamos fazer o design dos hotéis, mas vamos antes disso interiorizar as histórias dos países. O mesmo aconteceu no Qatar, no Dubai…
Há um mergulho na cultura e na identidade dos países onde se inserem. Mas também há uma inspiração da matriz portuguesa, madeirense, que lhe corre no sangue.
Mas, sabe, essa matriz e essa identidade são a certeza e a alegria de trabalhar. Eu levo isso de Portugal. E o resto está nos outros países [de novo, com um sorriso rasgado].
Olhando, agora, para este ambiente no Coletivo 284 que em boa hora nos ligou para a concretização desta entrevista: como é que encara esta exposição? Ao recriar aqui a matriz da Garota do Calhau, assume um manifesto?
A história da Garota do Calhau inspira-se nos miúdos que andavam nas praias e que eram conhecidos pelos garotos do calhau. E eu, em criança, queria ser um deles: poder andar com liberdade na rua, poder mergulhar, poder regressar à hora que eu quisesse. É claro que não foi isso que eu fiz, já que fui para a escola, fui para a universidade, fui aprender… Mas havia ali uma liberdade que era magnética e eu intitulei-me a “garota do calhau” e, a partir daí, fiz muita coisa. Temos a Associação Garota do Calhau, temos os móveis que dão origem à coleção Garota do Calhau. E, curiosamente, o Paulo André, aqui do Coletivo [Diretor Artístico do Coletivo 284], desafiou-me a fazer uma exposição aqui, que aconteceu finalmente agora e no contexto da Lisboa Design Week. Disse-me que conhecia o João Parrinha [da Softrock], que faz obras lindas em pedra (de esponja), e que juntos devíamos fazer uma exposição. Assim aconteceu. Não sou, é certo, muito dada a exposições conjuntas, porque já tenho a minha equipa. Mas a verdade é que, quando dei por mim, já estava empenhada nesta mostra com o João.
O Paulo André foi, então, visionário na forma como a desafiou, aqui…
Foi, sim. Nós desenhámos as pedras e o João concretizou-as. São estas pedras magníficas com 3 e 4 metros. O João, e a sua filha, a Carolina, que trabalha com ele, imprimiram um entusiasmo enorme a este trabalho. E depois foi acrescentar camadas. Eu disse-lhes: «Agora, precisamos de uma música». E temos o Pedro Macedo Camacho, um madeirense que é engenheiro e compositor, que se consagrou nos melhores filmes de Hollywood e em videogames. Esta música que ouvimos é, precisamente, dele. A iluminação é da Joana Forjaz. Os filmes são do Ricardo Lopes. Somos, em síntese, um grande grupo para recriar esta atmosfera debaixo do mar. Eu estou aqui há já uma semana e tenho-me lembrado da minha bisavó, que dizia: «Vão buscar a Nini, que ela está debaixo do mar». E, agora, é que eu vejo que ela terá previsto uma coisa destas.
Consegue descrever a sua relação com o mar?
É impressionante. O mar, para mim, é um vizinho. Eu não sei viver sem o mar. Lembro-me de quando era mais nova, quando subia a uma montanha, o que queria avistar era sempre o mar, onde quer que estivesse. Era do mar que andava à procura. Eu sou do mar. Há muitos uns anos, num concerto em Madrid, conheci uma pessoa que era tour manager do Michael Jackson, e ele perguntou-me de onde é que eu era. E eu disse: «Da Madeira». «E onde é isso?», perguntou-me, pedindo para ver o mapa. E eis que, no mapa americano, a Madeira não existia. E eu disse: «É aqui». «Aqui? Mas tu és uma sereia? Vives no mar?», indagou, curioso… [gargalhada]
É uma mulher do mundo, com pegada em NY, Londres, Paris, África do Sul, Dinamarca. Teve mais reações assim surpreendentes sobre o seu lugar de origem?
Tantas, tantas. Portugal foi muito conhecido durante muitos anos e depois passou a ser menos conhecido. Com os meus 62 anos, sou de uma época em que ia a um sítio, dizia que era da Madeira e as pessoas não sabiam onde era. Depois, dizendo que era portuguesa, as pessoas reagiam com menção ao Figo e em seguida ao Ronaldo. Agora, na partilha de que sou portuguesa, as pessoas dizem: «A minha mãe vive lá»; ou «A minha irmã vai para lá»; ou ainda «A minha tia vai querer comprar casa e ficar lá».
E, muito recentemente, para quem tinha essa esperança, tivemos a perspetiva de que o mundo passasse a ter um Papa oriundo do Machico…
Do Machico! Quase que tínhamos um Papa madeirense! Mas ainda vai a tempo… É uma pessoa fantástica. E tão simples. De resto, são tantos os madeirenses espalhados pelo mundo.
O que lhe dizem as pedras?
Sabe, em casa, tenho uma praia de pedra. Todos os dias, para entrar em casa, passo por esta minha praia de pedra. Às vezes, quando faço um jantar em casa, coloco uma pedra em cima de cada guardanapo. E é impossível as pessoas não pegarem na pedra e não se relacionarem com ela. Acho que há muita energia nestas pedras. E eu faço parte da praia, dos calhaus. Um dia, no SoHo, em Nova Iorque, vi tantos calhaus à venda por 10 dólares, cada, e pensei: «Meu Deus, como seríamos ricos na Madeira!». E, logo em seguida, emendei a mão: «Não, seríamos pobres. Podíamos ter dinheiro, mas não íamos ser ricos, porque a beleza da Madeira está naqueles calhaus todos à volta da ilha…». São lindos. E a água e o barulho da água, com os calhaus a rolar. Daí a luz ser subtil, nesta exposição. Para que as pessoas se sintam no fundo do mar, nesse silêncio e nessa força motriz do fundo do mar. Há, até, um poema de Helena Marques, poeta madeirense, que nos fala desta água… E, aqui, não é suposto que cada um de nós se veja. Até para que possam cair o “boneco” e as suas máscaras. Aqui, mergulhados no fundo do mar, é suposto sermos livres. E a grande liberdade é, de facto, poder não estar preparado para nada, não ter máscaras. E sentir. Daí este lugar apelando a essa essência. O que torna os lugares importantes não é o que se vê, mas o que se sente.






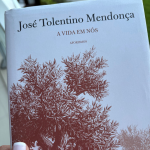





.