Marina Costa Lobo
ÉÉ das pouquíssimas vozes femininas, em Portugal, a falar sobre ciência política. Marina Costa Lobo nasceu em 1972, estava então o país cada vez mais incomodado com o Marcelismo e a dirigir-se para um ponto final à ditadura que alcançou 48 anos. Marina Costa Lobo dava os primeiros passos quando se selou o triunfo da democracia em Portugal, em 1976, com a ratificação da Constituição que imprimia ao novo regime pós-PREC a condição de pluralista, livre e pró-ocidental. Observadora da cultura política nacional e europeia, Marina Costa Lobo formou-se em Ciência Política na Universidade de Oxford, de onde saiu com uma tese sobre o poder do Primeiro-Ministro e o funcionamento do Governo no Portugal democrático. É investigadora no Instituto de Ciências Sociais, na Universidade de Lisboa, e integra várias redes de pesquisa internacional. Desde 2001, é codiretora do Projeto Comportamento Eleitoral e Atitudes Políticas dos Portugueses. Na sua investigação, tem dado principal relevo ao valor das instituições e dos partidos políticos e ao impacto dos líderes no comportamento de voto. Com Marina Costa Lobo, podemos clarificar o défice inequívoco do envolvimento dos cidadãos na política ativa e medir o distanciamento das pessoas em relação às instituições políticas. A cientista política, à porta das eleições legislativas do passado 4 de outubro, aceitou generosamente ficar Entre Vistas para uma perspetiva da democracia e uma previsão sobre o projeto intelectual e ideológico do Portugal do futuro.
Já ouvimos repetidas vezes a célebre citação de Winston Churchill: «A democracia é o pior de todos os regimes, excetuando todos os outros». Como é que olha para a democracia que construímos em Portugal?
Portugal tem já 40 anos de democracia (celebrados muito recentemente, em 2014) e penso que, neste momento, que é de crise económica (embora não tão profunda como em 2013), há uma tendência para olhar para a democracia de uma forma bastante cética e muito insatisfeita. Mas há que tentar separar o que é a conjuntura do que serão atitudes estruturais.
Os portugueses olham para a democracia como uma máquina de produzir bem-estar e a democracia não é exatamente isso. A democracia é uma forma de tomar decisões que pretende ser representativa e inclusiva, pretende dar vozes a todos os grupos de forma tendencialmente igual, pretende abrir o mais possível o espaço público para que haja um pluralismo de opiniões. A democracia está sempre em construção, nunca é um produto acabado. Portanto, se olharmos para a democracia portuguesa do ponto de vista procedimental e não dos resultados (eu sei que isto é difícil), temos instituições que apesar de tudo funcionam. Temos um sistema partidário que é muito resiliente, que não se tem fragmentado excessivamente, embora permita o surgimento de novas forças partidárias. Temos legislaturas que cumprem o seu mandato, e alternâncias no governo e na Presidência. Além disso, e diferentemente do que sucede por exemplo na Grécia, a nossa máquina administrativa funciona. Temos separação de poderes e vivemos num Estado de Direito. Por tudo isto, podemos afirmar com segurança que temos, afinal, um copo meio cheio.
Do ponto de vista das atitudes, creio que também existe, para lá do que é a insatisfação atual com os resultados do regime, um sentimento mais profundo de alguma satisfação. O Observatório da Qualidade da Democracia, que coordeno, teve ocasião de fazer um inquérito à opinião pública, na altura em que foram comemorados os 40 anos do 25 de abril, que mostrava precisamente que os portugueses olhavam para o 25 de abril de uma forma positiva. Consideravam que tinha tido mais efeitos positivos do que negativos. Podem estar insatisfeitos com a democracia neste momento, mas têm uma visão de que a mudança trazida pelo 25 de abril foi para melhor, que o que nós temos é uma democracia representativa europeia, com problemas, mas que funciona em larga medida como outra democracia europeia. Este é de facto o copo meio cheio.
Já o copo meio vazio tem a ver com dois tipos de fatores: por um lado, as expectativas que foram criadas a partir da democratização em termos de melhoria da qualidade de vida… Aí não houve tanto êxito como se esperava. Como sabemos, foi necessário recorrer ao FMI [Fundo Monetário Internacional] por três vezes ao longo dos últimos 40 anos. Houve, a partir de 2011, um regresso a realidades de austeridade e dificuldades que os portugueses acreditavam ter deixado definitivamente para trás com a entrada na União Europeia.
Mas não são apenas estas razões (económicas) que importam. A ser assim, bastaria que a situação económica melhorasse para haver uma menor insatisfação. Mas não é isso que acontece. Existem também razões políticas para a insatisfação com a democracia hoje em Portugal. Mesmo antes da crise, isto é, a partir da viragem do século, já se vislumbravam indicadores de afastamento dos portugueses em relação à política, como por exemplo no grau de abstenção ou nos baixos níveis de participação política que existe em Portugal de uma perspectiva comparada. Eu tenho defendido uma reforma do sistema eleitoral, nomeadamente através da abertura das listas partidárias, para que os eleitores tenham uma palavra mais importante a dizer na escolha dos seus representantes do que existe atualmente. Se isso acontecesse em Portugal, aproximar-nos-íamos daquilo que já é prática comum na Europa. De facto, no nosso sistema político, os partidos controlam tudo, e a sociedade civil evoluiu, amadureceu e exige maior participação no sistema. Este controle do sistema político por parte dos partidos estabelecidos está associado a um sistema de financiamento público dos partidos que leva a uma cartelização dos partidos que se tornam insensíveis às preferências dos cidadãos. Este progressivo isolamento dos partidos em relação à sociedade civil, num contexto de grave crise económica, gera ainda mais ressentimento e insatisfação com “a democracia”.
É preciso separar então o que é a democracia enquanto forma de deliberação política e possibilidade de inclusão de grupos sociais e sua representação, bem como da qualidade das instituições políticas, de outra coisa, que são os resultados da política, embora se perceba perfeitamente que possa existir aqui uma ligação forte. E não esquecer que para lá dos fatores económicos, existem fatores políticos que têm que ver com a evolução cartelizada dos partidos que corroem a relação dos eleitores com a política.
Parte da nossa insatisfação com a democracia em Portugal hoje tem a ver com a própria indefinição do que são a Europa e o projeto europeu.
No texto A Identidade Cultural Europeia, Vasco Graça Moura refere-se assim à democracia: «É por ser uma expressão superior da razão e da condição humanas que se ergue contra a força bruta, a irracionalidade e a desigualdade». Quando centramos o tema na Europa atual, que tem em mãos problemas tão complexos como o dos refugiados, a democracia está longe de cumprir este propósito a que faz menção Vasco Graça Moura, certo?
Portugal depositou todas as suas esperanças numa União Europeia que na altura era bastante próspera, com um futuro muito promissor. Parte da nossa insatisfação com a democracia em Portugal hoje tem a ver com a própria indefinição do que são a Europa e o projeto europeu. Percebemos que a Zona Euro é um projeto com muitas fragilidades, no qual Portugal apostou totalmente. A maior parte da classe política e os principais partidos apostaram tudo na moeda única que agora se viu ter problemas graves de arquitetura institucional, por um lado. Por outro lado, temos um Estado social europeu que está bastante em causa, que também é outro dos pilares da identidade europeia. Temos agora o problema da emigração/refugiados que vem agravar ainda mais receios identitários que a Europa já tinha. A Europa está numa encruzilhada e está em mudança. Há a possibilidade da saída do Reino Unido, que iria alterar também o equilíbrio de poderes na União Europeia. Tudo isso faz com que o contexto que permitia o bom funcionamento da democracia portuguesa se tenha tornado mais difícil.
Já temos 40 anos de democracia e isso obriga-nos a sermos mais responsáveis em relação àquilo que queremos ser, para onde queremos ir, enfim, não estarmos dependentes de uma entidade externa para nos definir politicamente e para nos dar essa legitimidade democrática que devemos ter por nós próprios, sem precisar desse empréstimo. É uma forma de responsabilização maior para Portugal.
Que relação é possível traçar entre democracias e poderes económicos?
O poder económico traduz-se em poder social em qualquer sociedade. A forma como esse poder social se reflete, controla ou condiciona o poder político é que depende da qualidade da deliberação política. Um país será tanto mais democrático, quanto menos o poder político se submeter aos poderes económicos. Para isso é que existem instituições políticas contra- maioritárias. Existe a vontade da maioria e essa maioria pode estar influenciada pelo poder económico, mas existem instituições independentes que servem como contrapeso a um poder económico que esteja refletido no poder social. Em Portugal, a queda do grupo Espírito Santo foi uma bela demonstração da forma como o poder político não ficou subjugado ao poder económico, permitindo a queda de um grupo que tinha tentado sempre assegurar a sua sobrevivência, não apenas por razões económicas, mas também devido a fortes ligações políticas. A democracia por ser um regime pluralista por definição é aquele com potencial para ter uma relação mais autónoma dos poderes políticos. No comunismo ou no autoritarismo, a ligação e dependência entre o poder económico e o político é muito maior. A questão que se coloca, no entanto, é que com a globalização, os poderes dos Estados nacionais para lidar com os poderes económicos internacionais são fracos. Desse ponto de vista, a soberania dos poderes políticos tem de ser repensada de um ponto de vista mais alargado. É aí que se pode equacionar a União Europeia como União Económica, espaço de deliberação política que também constitui um poder político à altura dos poderes económicos globais. A moeda do euro foi aliás um projeto político para responder ao desafio da globalização num contexto do pós-guerra fria. O problema não é a força económica do bloco europeu, nem a sua capacidade de fazer frente aos poderes económicos globais. O problema é que os países que a compõem são demasiado distintos para funcionar enquanto zona de moeda única. Portugal, bem como outros países têm-se ressentido dessas falhas intrínsecas do Euro. Além disso, os poderes políticos nacionais, que ainda são tidos como os principais poderes políticos aos olhos dos cidadãos, ressentem-se por se verem incapazes de agir perante a supranacionalização da política e a globalização económica…
É inegável que o 25 de abril inaugurou uma era de cidadania política em Portugal, compreendida de forma plena.
O historiador José Miguel Sardica, n’O Século XX Português, refere-se a este período como «(…) o século (re)definidor mais importante da existência da nação, a par dos séculos XII e XV». Desde logo o dilema monarquia versus república, que o Ultimato britânico (1890) desencadeou, a longa ditadura e o 25 de abril abriram o debate da refundação do país. Mas não se traduziram, a longo prazo, forçosamente, em mais participação e cidadania política… Que consciência temos nós portugueses dos direitos de cidadania política?
É inegável que o 25 de abril inaugurou uma era de cidadania política em Portugal, compreendida de forma plena. Nós não podemos equacionar mais cidadania política apenas com uma maior participação. Com certeza, a participação política é uma componente da cidadania, mas a cidadania tem também dimensões jurídicas e sociais, a saber, direitos de nacionalidade, residência, mobilidade e acesso a serviços de bem-estar social no nosso e noutros países. Este tipo de cidadania foi sendo adquirido com esta democracia, embora os direitos sociais tenham começado ainda no Marcelismo. A diferença entre cidadania jurídica e social, por um lado, e a cidadania política, por outro, é que esta última é mais exigente. De facto, a cidadania política pressupõe que os cidadãos sejam ativos para ela existir (enquanto a jurídica e a social são usufruídas simplesmente). Na cidadania política usufruem igualmente de direitos, mas têm também alguns deveres e aí há, realmente, mais uma vez, o copo meio cheio e o copo meio vazio. Se olharmos para as pessoas que estão hoje envolvidas na política, por exemplo, para a proporção de mulheres, a história é muito positiva. Hoje (é claro que não é ainda o que gostaríamos de ver), há mais mulheres em cargos políticos e como deputadas do que havia antes do 25 de abril. Também do ponto de vista da classe social, de nível de escolaridade, em todos esses campos tudo melhorou – há mais representação do que é a diversidade da sociedade portuguesa. Além disso, naturalmente se olharmos para a forma como os cidadãos participam, os direitos de participação são muito mais alargados do que eram antes do 25 de abril. Portanto, tivemos de facto um enorme ganho. Ainda assim, em Portugal – que não está sozinho, faz parte da democracia europeia e é das democracias mais avançadas – existe um afastamento entre a política dita tradicional e os eleitores. De facto, o que vemos em Portugal é uma fraca mobilização quando há eleições, uma tendência de aumento da abstenção, uma diminuição na sindicalização, um grau de associativismo baixo, sendo que, entre os jovens, isso não está a mudar para melhor.
Não há uma vaga de jovens com apetência para a participação política e a renovação das atuais elites políticas?
Não. Em Portugal, temos uma cultura cívica que é um legado histórico do Salazarismo, de fraca participação. Estruturalmente, temos uma questão cultural forte que nos leva à desconfiança do outro e ao não envolvimento (Portugal é um país onde as pessoas desconfiam muito umas das outras e não veem grande vantagem na participação). A maior parte das pessoas quer é defender a sua família e os seus mais próximos, menosprezando a importância do envolvimento na comunidade. Este alheamento estrutural, que tem que ver também com fracos recursos e poucas capacidades sociais, junta-se depois aos céticos conjunturais – os insatisfeitos com os resultados e o excesso de partidarização da política, produzindo uma reduzida participação política. Ainda assim, há casos muito interessantes de participação e mobilização que matizam este quadro negativo. Por exemplo, quem tem estudado a descriminalização do aborto mostra que há grupos muito ativos de associações que foram absolutamente determinantes para que essa descriminalização acontecesse. Também na questão do casamento homossexual, também há aí um associativismo muito forte com impacto direto. A questão do ambiente, em que organizações como a Quercus são fundamentais. Portanto, temos que distinguir entre uma população genericamente pouco mobilizada e onde os indicadores melhoram pouco (e isso vê-se nas sondagens e nos inquéritos à opinião pública) que contrasta com movimentos pequenos mas muito organizados, eficazes e com mudanças políticas objetivas. Aí também a Europa tem ajudado, na medida em que a abertura à Europa levou a que se criassem redes entre os países que ajudaram as associações portuguesas a serem mais eficazes.
Com a assinatura do memorando de entendimento entre o governo e a troika (junho de 2011), assistimos àquilo que referiu ser o «maior empobrecimento abrupto e coletivo de que há memória no nosso país». Porque permaneceu o país relativamente calmo, quando comparado, por exemplo, com Espanha?
Essa questão tem sido muito discutida nos últimos anos… Porque é que em Portugal não surgiu, por exemplo, um Podemos? A minha explicação para isso tem a ver com o desenvolvimento da extrema-esquerda em Portugal, antes da crise. O facto de não haver um grande novo partido ou um grande movimento social que depois levasse à criação de um partido à esquerda do PS [Partido Socialista] tem a ver com o facto de esse campo já estar bastante ocupado, seja pelo PCP [Partido Comunista Português], seja pelo BE [Bloco de Esquerda]. O BE, quando aparece, em 1999, tem uma agenda que é muito semelhante à do Podemos de hoje, de extrema-esquerda, libertária, coisa que o PCP não é. O PCP tem maior dificuldade em chegar às camadas urbanas e aos jovens. Aliás, o PCP nunca se preocupou com questões de homossexualidade, de género, está antes focado na classe social. Portanto, quando se dá a crise da troika, na verdade o nosso sistema partidário já tinha dado esse fruto do aparecimento do BE. Portanto, e comparando com Espanha, o que se verifica é que Espanha não tinha esta extrema-esquerda, daí haver espaço para este crescimento.
Uma outra questão é a emigração. Temos em Portugal mais emigração jovem, do que por exemplo em Espanha. Parte do eleitorado que poderia ser apoiante de um partido desse tipo não está em Portugal, saiu do jogo. Aliás, não é por acaso que Irlanda e Portugal são os países com mais emigração entre os jovens e em que não apareceram novos partidos. Se as pessoas tivessem ficado no país, teríamos um desemprego muito maior, o que causaria mais pressão social para que de facto surgisse o tal novo partido – mas mesmo assim teria que disputar o espaço com o BE e o PCP. Assim como na Irlanda há um êxodo maciço para os EUA, de Portugal seguem para países entre a Europa, os PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa] e o Brasil, o que causa uma menor pressão social para o surgimento de um novo partido político. A terceira questão remete para a forma como os portugueses participam e não temos aí um terreno muito fértil…
Ora, os partidos políticos passaram então a agarrar-se a rótulos: um líder tem de ser mediático e fazer bons debates.
Como é que olha para as instituições partidárias atuais?
Quando olho para as instituições partidárias hoje vejo, por um lado, uma grande resiliência. À porta do 4 de outubro víamos que os partidos que dominam o sistema partidário são exatamente os mesmos que dominavam há 10 anos. Isso contrasta vivamente com o que se passa por essa Europa fora. Por outro lado, noto que há uma tendência para a personalização e o esvaziamento dos partidos. Os partidos continuam e duram, mas já não são o que eram. A enorme personalização deixa mais poder para o líder, levando a uma desvalorização das instituições partidárias, do congresso… Tudo isto esvazia de representação social aquilo que era um partido político. Ora, os partidos políticos passaram então a agarrar-se a rótulos: um líder tem de ser mediático e fazer bons debates. Mas a ligação ao terreno, parece-me que fica deste modo muito dificultada, porque este tipo de partidos aparece sobretudo nos media. Mas há diferenças entre partidos. Por exemplo, um partido como o BE tem pouquíssima ancoragem social e contrasta com um PCP que, naturalmente, tem bastante mais. Ou mesmo um PS ou um PSD [Partido Social Democrata], que pelo menos pela via autárquica têm outro enraizamento. Mas quando falamos de grandes cidades onde essa ligação ao poder autárquico é muito mais ténue, parece-me que é inequívoco que o distanciamento é muito grande e que os partidos controlam cada vez mais o espaço mediático e, nesse sentido, chegam às pessoas, porque as pessoas estão muito dependentes da televisão. E os partidos controlam efetivamente esse espaço, mas estão a desaparecer em todas as suas outras componentes, que lhes davam força. Portanto, são organizações, simultaneamente, extremamente fortes e vulneráveis. Vulneráveis na sua relação com os cidadãos, cada vez mais de costas voltadas… Fortes na sua captura do Estado. E aqui não excluo o BE e o PCP, que no que diz respeito à cobertura mediática, em particular em relação a novos partidos como o Livre ou outros, têm uma vantagem tão grande que prejudica muito qualquer novo entrante.
Mesmo assim, o sistema partidário como um todo está sob franca pressão. Desde 2005 que os principais partidos portugueses têm perdido em votos, tanto de um ponto de vista absoluto, como em percentagem.
É por tudo isto que constato, com desilusão, a incapacidade dos partidos atuais parlamentares em lidar com a insatisfação crescente dos cidadãos em relação à política de cartel praticada por estes. Seja revendo o sistema eleitoral, abrindo-o mais às escolhas dos portugueses, seja reduzindo a generosidade do financiamento partidário público. São questões muito debatidas mas que nunca levaram a lado nenhum.
Onde é que as pessoas se encontram com a polis e o debate público? É na televisão e, por isso, a imagem de um líder político torna-se muito importante.
O debate televisivo de 9 de setembro com Pedro Passos Coelho e António Costa frente-a-frente alcançou uma audiência de 3,4 milhões, um record nunca conquistado desde que existem televisões privadas e audiometria. É para a cena mediática que os políticos hoje têm de preparar-se melhor?
Sucessivas eleições tornaram as nossas eleições numa escolha entre Primeiros-Ministros, e estas últimas não foram uma exceção – as audiências nesse debate derivam do facto de os portugueses quererem perceber quais as principais alternativas que existiam em termos de projeto de governação para os próximos 4 anos. Além disso, e na linha do que eu estava a dizer, como os políticos não têm em geral uma ligação forte, verdadeira e orgânica com a sociedade, a ligação através dos media é fundamental para conectar com o eleitor. E o eleitor também está bastante isolado, porque há na sociedade portuguesa um individualismo crescente, não há muito associativismo, há poucas pessoas a ir à missa – que é também uma forma de socialização política –, não fazem parte de sindicatos ou de associações onde se pode discutir política ou onde se pode tendencialmente ser levado a votar neste ou naquele… Onde é que as pessoas se encontram com a polis e o debate público? É na televisão e, por isso, a imagem de um líder político torna-se muito importante. A imagem não é só superficial, é política também, no sentido em que quando uma pessoa aparece na televisão fala e transmite ideias e isso é muito importante. Falo de imagem, atenção, no sentido da perceção das mensagens e dos conteúdos transmitidos. Aí o líder torna-se no principal veículo de comunicação política que o partido tem.
Qual é o papel do Primeiro-Ministro numa democracia desmoralizada?
O Primeiro-Ministro, em Portugal, tornou-se a figura central do regime com o fortalecimento dos partidos com as maiorias absolutas e com o declínio do poder do Presidente [da República] em 1982 e acentuado pelas maiorias absolutas, em que se tornou mais difícil sobrepor uma vontade presidencial a uma vontade do Primeiro-Ministro. Esta nossa dependência da troika, com o Primeiro-Ministro a admitir que não vai governar em autonomia, ou seja, que vai governar apenas para implementar uma agenda definida em Bruxelas, é altamente problemático do ponto de vista da legitimidade política do regime, porque o regime nos últimos 20 anos tinha vindo a tornar-se mais dependente da figura do Primeiro-Ministro e agora o Primeiro-Ministro e o Governo em geral, afinal de contas, estão eles próprios dependentes e são subalternos a uma entidade externa na qual não se pode votar. E isso cria problemas de legitimidade…
Ler o jornal é uma forma muito importante de envolvimento na política, já que o jornal tende a ser muito mais detalhado nas questões políticas do que a televisão.
A reforma do sistema eleitoral tem sido alvo de discussão contínua entre partidos, desde a década de 1990. Do seu ponto de vista, quais são as principais fragilidades do atual sistema eleitoral?
O sistema eleitoral atual tem características positivas. Há sistemas eleitorais demasiado porosos que facilitam muito a representação de pequenos partidos e isso fomenta a fragmentação. Claramente, isso não acontece em Portugal – embora não o impeça sobremaneira. Para mim, não se coloca o problema de diminuir o limiar de representação e as barreiras à entrada de novos partidos. Do meu ponto de vista, o que me parece ser um problema é a forma como são feitas as listas partidárias. O líder, do qual o partido está muito dependente, é que define as listas partidárias. Esses deputados ficam, assim, muito dependentes do líder partidário. Para serem eleitos deputados têm de ser fiéis ao líder para assegurar um lugar elegível nas listas e descuram o trabalho no círculo eleitoral pelo qual foram eleitos. Ora, isto dá origem a um parlamento de costas voltadas para a população. No século passado, o líder partidário tinha de ser eleito em congresso e, apesar de tudo, representava vários grupos dentro do partido. Agora, com exceção do PCP, o líder está autónomo e não tem de prestar contas ao partido, o facto de ele continuar a controlar as listas tornou-se mais problemático ainda… O que é que me parece que podia ser feito? Permitir, em vez de votar no partido, escolher os candidatos e obrigá-los a ir ao seu círculo eleitoral, fazer trabalho no terreno e com isso tentar a reeleição, e não apenas durante a campanha eleitoral. Isto obrigaria os partidos a voltarem-se mais para a sociedade. Por isso, a proposta que eu tenho defendido – já defendida por várias pessoas e da qual eu partilho – é de abertura das listas. As pessoas poderiam votar nos candidatos e estes seriam depois eleitos consoante o número de votos alcançado.
No seu estudo Uma cidadania política, mas pouco, refere também que «nos anos 90, Portugal foi um dos países onde a abstenção cresceu mais na Europa». Nos últimos anos, a abstenção continuou a acentuar-se em Portugal. Como se explica esta tendência? Quais são os principais preditores do voto?
Há fatores estruturais, relacionados com a nossa cultura cívica de pouca participação, sentimentos de ineficácia (pessoas que pensam que votar não faz qualquer diferença), não identificação com os partidos e os líderes, distância e alheamento em relação à política. Bem, é preciso não esquecer que em Portugal as pessoas leem muito poucos jornais. Ler o jornal é uma forma muito importante de envolvimento na política, já que o jornal tende a ser muito mais detalhado nas questões políticas do que a televisão.
Que jornais lê habitualmente?
[riso] Leio o Público, o Observador e o Expresso, para além de títulos estrangeiros. Digo muitas vezes aos meus alunos universitários que uma das coisas mais importantes que se pode levar da formação em ciências sociais é o hábito da leitura de jornais, já que este é meio caminho para o interesse pela política. Assim será possível ganhar uma mais viva consciência de voto e perceber que o voto é o momento de tomar uma posição perante quem são os líderes e o que representam… Além de outro tipo de participação política, claro.
E voltando à abstenção…
Um segundo fator é a insatisfação com a situação atual. O terceiro tem a ver com a consciência de que quem manda é a Europa e de em função disso o voto não contribuir para fazer a diferença, porque as decisões em Portugal, numa situação de fragilidade económica, vão ser tomadas em Bruxelas. Todos estes fatores juntos levam à abstenção. Mas também há uma cultura cívica que favorece esse comportamento. E aí acho que os media têm um papel de grande crítica em relação à política. Além disso, há entre os jovens a ideia de que quem está na política é por exemplo para enriquecimento próprio, entre outras coisas, não olhando para a política como uma agenda de decisões públicas e deliberações que interessem a todos. Há muito mais a tendência para criticar os políticos, o que é normal com a situação vivida. Mas isso acaba por gerar o alheamento dos mais jovens, que até têm a ambição de ser bons cidadãos e acabam por se calhar achar que ser bons cidadãos, justamente, não tem nada a ver com política. O que é pena!
Portanto, é difícil convencer o jovem de 18 anos a ir votar pela primeira vez?
Se os pais, sistematicamente, não votam e estão sempre a criticar os políticos na televisão, é difícil passar o exemplo para baixo… Fui uma das autoras de uma cadeira de “Ciência Política”, que é, creio eu, opção de escola para alunos de 12.º Ano e é lecionada em várias escolas secundárias. Penso que a socialização política para a cidadania na escola é importante e não tenho a certeza que tudo esteja a ser feito nesse domínio. Mas é muito importante para passar a mensagem da importância da participação.
Esta politização da Europa e a bipolarização do sistema partidário obriga a mais escolhas dos cidadãos portugueses, e é clarificadora. Obriga a que sejamos nós autores do nosso destino, sem nos escudarmos na Europa – porque a Europa foi também sempre uma desculpa para nós não pensarmos de forma autónoma aquilo que somos e que poderíamos ser.
Se compararmos a governação em democracia no pós-25 de abril com a instabilidade da Primeira República (1910-1926), que teve 45 governos, ou o longo Estado Novo, o sistema autoritário mais prolongado em toda a Europa… Parece que de facto caminhámos ao longo destes últimos 41 anos para um sistema, pelo menos, mais estável. Mas, eventualmente, sem identidade. Qual é o modelo estratégico e intelectual existente para pensar Portugal e projetá-lo face ao futuro?
Até recentemente, a principal ideologia do Portugal democrático sempre foi a europeização. Nem mais, nem menos. Os principais partidos do nosso sistema político, o PS e PSD sempre se assumiram como partidos pragmáticos e pouco ideológicos. Certamente, têm as suas diferenças ideológicas, mas o que sobretudo interessa a estes partidos é a governação, a melhoria das condições de vida dos portugueses. E isso sempre representou a convergência dos portugueses com o modo de vida da Europa do norte. De facto, desde a nossa adesão à CEE [Comunidade Económica Europeia], o processo de integração europeia não dividia os dois grandes partidos, PS e PSD. Essa forma de fazer política europeia teve várias consequências: uma, a de excluir a União Europeia do debate político nacional (seja em que eleições fossem, nacionais ou europeias), e outra era a comunhão de objetivos e a continuidade de políticas independentemente de quem fosse governo (PS ou PSD) junto de Bruxelas. Foi assim possível ao PSD ser tão a favor do investimento público, nos anos de ouro dos fundos estruturais, como mais tarde o PS ser a favor da convergência nominal no caminho para a moeda única. Nesses tempos, a Europa era um desígnio nacional, tão estável como qualquer outro objetivo de política externa: os governos e as maiorias mudavam, mas as políticas europeias mantinham a sua continuidade. Mas a crise de integração de Portugal no espaço da Zona Euro, a consequente divergência económica e a necessidade de recurso a um programa de austeridade negociado com a troika poderá ter mudado isso.
A ser duradoura esta formação de governo à esquerda, inaugura-se um novo momento político em Portugal. A forma de fazer política em Portugal passará a ser polarizada, com tudo o que isso tem de repercussões negativas, a saber sobre a capacidade de efetuar reformas de políticas públicas que até aqui tinham sido realizadas ao centro por acordo dos dois partidos. Mas vejamos, pelo lado positivo. Esta politização da Europa e a bipolarização do sistema partidário obriga a mais escolhas dos cidadãos portugueses, e é clarificadora. Obriga a que sejamos nós autores do nosso destino, sem nos escudarmos na Europa – porque a Europa foi também sempre uma desculpa para nós não pensarmos de forma autónoma aquilo que somos e que poderíamos ser. Encaremos então estes desenvolvimentos como uma oportunidade para adquirir uma identidade própria, sem recurso a algo externo que na verdade não passa por Portugal, e de que nós afinal não precisamos porventura para termos uma identidade própria.






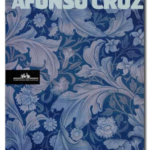





.