«This is how the Japanese define the peculiar stress induced by speaking a foreign language». Eis o esclarecimento feito no início deste livro itinerante, de Raquel Serejo Martins, para nos situar e recompor do desconforto provável gerado no contacto com a capa, com o título. Afinal, quem sabe o que significa Yoko Meshi? E é justamente a curiosidade gerada à volta destas palavras que nos leva nesse caminho imprevisível da viagem. O livro que temos em mãos é um livro de viagens. Que é também – que dúvidas há? – um livro de poesia, o género ao qual nos habituou Raquel Serejo Martins e pelo qual comecei a lê-la, para me preparar para a entrevista que tive o privilégio de lhe fazer.
Na viagem que fazemos a Berlim, neste livro, assistimos a um tratado filosófico sobre a bicicleta e a sua «alegria incompatível com a sisudez que os sentimentos de solenidade exigem». E o muro que «dividiu uma cidade em dois e em dois o mundo», hoje a «maior galeria de arte ao ar livre». E a guerra, a guerra. As bibliotecas. E Babel. Jorge Luis Borges. E as palavras: «penso na importância das palavras, como os gestos ficam opacos ou órfãos sem palavras». Na viagem que Raquel Serejo Martins nos conta há uma busca aparentemente só externa sobre o que se é, o que se pensa, como se pensa. Como se vê o mundo. E o Memorial do Holocausto. E o museu, «História que se pode tocar». O labirinto. E a tese do «funcionário competente» que Hannah Arendt advogou.
Na sua viagem à Índia, a autora introduz-nos o hinduísmo e as suas etapas. Mas também o budismo e o jainismo. E «a pimenta, o cominho, o açafrão e o coentro». E o rosa como «a cor das boas vindas» para os indianos. Entramos em Jaipur, «conhecida como a Paris da Índia». E as «Jharokhas, janelas de onde as maharanis, as mulheres do marajá e as concubinas, porque não podiam aparecer em público, observavam a vida da cidade». O Rajastão como deserto. E a «festa permanente» que a Índia é. E a intuição feminina como «resultado de milhões de anos sem pensar». O Taj Mahal, claro. E Varanasi, a «cidade viva mais antiga do mundo». E o Ganges. Goa. O sistema de dote. E o «poder de poder dizer não».
E também entramos em Israel, neste livro de Raquel Serejo Martins. Sim. Masada, como «símbolo de resistência contra futuras tragédias». A «aridez da terra», a transparência do Mar Vermelho, o Monte das Oliveiras. Judeus. De novo o Holocausto. O Muro das Lamentações. Jericó, «tida como cidade mais antiga do mundo». Telavive e o Rio de Janeiro. E o Santo Graal. Haifa como «modelo de coexistência entre árabes e judeus». E a sua universidade, projetada por Oscar Niemeyer. E a paz. Tão difícil, porquê?
Outro destino: Dinamarca. E as bicicletas, again. Borgen. Correlações entre a riqueza do país e o combate à corrupção. E a felicidade e o suicídio. E Karen Blixen. E as frases feitas. Sobre sermos o que fazemos. Ou fazermos o que somos. Ou algo assim. E o «lugar mais feliz do mundo». Mas também vamos à Grécia. O que pensam?! «Gosto da palavra amanhar, preparar com as mãos». E eu também, penso. Ler é isto. Pensar que alguém verbalizou o que pensámos e que nunca diríamos assim tão bem. Uma «cubicular cabine» e a lentidão. A estética. E o museu do passado. Mais de duas mil as ilhas gregas. E o «desmesurado peso da vida».
No livro, o que lemos é o pensamento de Raquel Serejo Martins no decurso destas viagens. Ocorre-me Virginia Woolf, claro. Não é a viagem descrita. É a viagem acabada de chegar ao pensamento. O pensamento como ele é: veloz, imprevisível, enigmático, ingovernável. Soberano. Como a viagem. Que nos traz, para além de toda a aprendizagem, uma coisa imprescindível e à qual Raquel Serejo Martins se refere ao citar George Orwell: «o importante não é mantermo-nos vivos, é mantermo-nos humanos». E é mesmo isso.




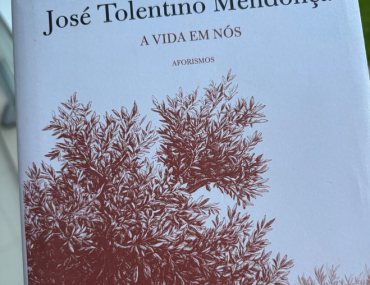

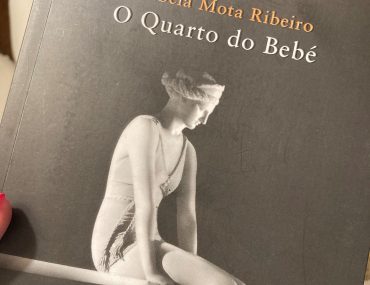

.