J osé Gardeazabal é, entre os escritores portugueses da atualidade, um dos nomes que memorizamos, desde logo pela musicalidade do nome. E pela estrutura literária original. A capacidade que nos transfere de seguirmos para um imaginário fora do dia a dia, fora do tempo, do aqui, do que somos. Para regressarmos, porventura mais robustos, ao que afinal somos. Chegou à lista de finalistas do Prémio Oceanos com o primeiro romance, Meio homem metade baleia (2018). A estreia na publicação foi, porém, na poesia, com História do século vinte (2016), distinguido com o Prémio INCM/Vasco Graça Moura. Na prosa, conhecemos-lhe o Dicionário de ideias feitas em literatura (2016) ou A Melhor Máquina Viva (2020), considerado um dos melhores textos de sempre por Miguel Real. No teatro, podemos ler três peças compiladas na Trilogia do olhar (2017). Mais recentes, os romances Quarentena, Uma História de Amor (2021) e Quarenta e Três (2021) remetem-nos para o epifenómeno da pandemia e o da literatura, respetivamente. Temos como referência mais recente os seus títulos de poesia este ano publicados: Da Luz Para Dentro (2022) e Penélope Está de Partida (2022). Implícita está a visão de um cidadão do mundo, com experiência de residência em diferentes países. E a visão de um académico, que não vive só da escrita. Mas que lhe empresta o melhor. Dando à literatura e à poesia um lugar novo.
Começo pelo seu último romance, Quarenta e Três. E, justamente, pela sugestão levantada pelo título: qual a razão para se fixar, em 36 grandes obras, na página 43? Há um sentido cabalístico aqui?
Quarenta e Três faz navegar o protagonista, Hans Heller, pelo interior de 36 romances, clássicos da literatura universal. O meu protagonista fala, caminha e faz mais com os personagens desses romances. Há um mecanismo, um desafio para a produção de literatura no facto de escolher a página 43 das edições que usei desses romances e trabalhar os meus capítulos à volta dessas páginas. Mas em Quarenta e Três não há um sentido cabalístico, nem um fetiche. No mínimo, uma certa ironia em relação aos grandes significados por detrás da literatura, uma vez que qualquer número de página depende da edição em concreto que usamos. Ou seja, navegar a grande literatura, fazer uso dela, a partir de um lugar arbitrário. É um bom projeto.
O que faz neste livro, para além de um romance sobre o amor, é facultar-nos um mapa para a interpretação da literatura. Posso entender assim?
É uma perspetiva. No fundo a literatura existente aproxima-se do proverbial mapa de Borges, aquele que reproduz a realidade na escala de um para um. Com a agravante de, no caso da literatura, o uso de palavras, com o seu significado múltiplo, permitir pensar num mapa de 1 para 1 em que podemos aumentar ainda mais a escala e fazer zoom em busca de ainda mais significado e mais narrativa. A ideia do infinito em literatura, a inesgotável possibilidade de fazer mais palavras e mais literatura a partir das palavras existentes, é algo de que tenho consciência e que me dá muitas alegrias.
O que lemos depende em grande medida, claro, do património literário que transportamos. Aos olhos de quem já assinou poesia, teatro e romance, para que serve afinal a literatura (que diga quem também assinou Dicionário de Ideias Feitas em Literatura)?
O Dicionário de Ideias Feitas em Literatura segue um outro caminho: a produção de prosas muito curtas a partir não das palavras dos outros em si, mas do meu comentário às palavras dos outros. Parte das minhas notas à margem do que li e associa uma ideia forte – amor, abraço, adeus, por aí adiante, a um autor ou autora. Acabamos com uma coletânea a dois ritmos, tema e autor. Podemos seguir o índice de temas e o de autores, ou saltitar entre as micronarrativas. Mais do que património, associo a literatura à grande, antiga e pura ideia de riqueza. Riqueza pura, uma comunicação inquebrável das grandes tentativas do que significa ser humano, entre épocas, entre pessoas, entre os vivos e os mortos. A literatura é um dos melhores mecanismos da nossa humanidade.
Literariamente, a Europa é um campo muito trabalhado, uma paisagem muitas vezes repisada. E, no enanto, é um lugar de grandezas e desastre inesgotável em termos literários.
Com o seu primeiro romance, Meio homem metade baleia, foi finalista do Prémio Oceanos, uma instituição de promoção da língua portuguesa. O que considera estar a lusofonia a fazer pela escrita?
O melhor que a lusofonia tem a fazer pela literatura é ler e conversar com atenção. Com o mínimo de timidez e de inércia, com o máximo de curiosidade e tolerância pelo radicalmente original. O sonho da literatura lusófona devia ser tornar-se apenas literatura. Acho que vamos conseguir.
Situemo-nos no seu livro Penélope Está de Partida. Há um contraponto entre a Penélope que espera Ulisses regressado da Guerra de Troia e a Penélope que está (decalcada na poesia que escreve aqui) de partida. Qual é do seu ponto de vista o retrato que melhor descreve a mulher na atual sociedade?
Sim, a Penélope de Penélope Está de Partida é apanhada pela poesia no momento em que deixou de esperar. É o momento do enfado, da prestação de contas verbal com o Ulisses viajado. Este livro nasceu da minha insatisfação com a natureza tradicionalista da personagem Penélope, os seus grandes gestos passivos, tecer e destecer, esperar, sonhar com um renovado leito matrimonial. E, claro, é um livro que ecoa aquilo que se chamava até há pouco a emancipação feminina, neste caso também uma emancipação da personagem em relação à própria literatura. Esta Penélope renega o seu papel no cânone literário produzindo, no momento da partida, a sua própria literatura. O livro trabalha o íntimo e o político, paralelamente. Deu-me uma grande satisfação.
Pego agora num verso do seu Da Luz para Dentro: «Achamo-nos tão facilmente/ que o descobrimento é uma ficção». A proximidade aparentemente criada pela luz (leia-se a tecnologia ou os meios que nos conectam) esconde neste tempo em que vivemos uma falsa capacidade de nos conhecermos bem? É um dedo posto na ferida este seu livro?
Da Luz Para Dentro é um livro feliz. É um exercício de aproximação à intimidade mais feliz em literatura. Nesse sentido, é um pouco o oposto de Penélope Está de Partida, que é um acerto de contas a propósito de uma ausência de intimidade. Na apresentação dos livros, o escritor Frederico Pedreira arriscou uma coisa lindíssima, que não vou esquecer: a Penélope de Penélope Está de Partida, no fundo, não deseja mais do que ser parte do Da Luz Para Dentro. Este é um livro que, de certa maneira, luta contra a morte e até a politização da intimidade, e trabalha com palavras esparsas esse velho milagre que é o encontro dos corpos e das almas. Ao mesmo tempo.
São diferentes as geografias em que viveu: Luanda, Aveiro, Boston, Los Angeles, para além de Lisboa. Este nomadismo dá-lhe uma posição privilegiada como observador, desde logo face à Europa? Que Europa veem os seus olhos?
Gosto do termo nomadismo. À minha medida, absorvi realidades muito diferentes. Pela curiosidade, a história, a política, as sociologias. Foi uma surpresa reconhecer como, especialmente nos romances, mas na verdade também na poesia e no teatro, a minha condição de europeu aflora sempre. Com uma perspetiva de dentro e também um olhar de fora. Literariamente, a Europa é um campo muito trabalhado, uma paisagem muitas vezes repisada. E, no enanto, é um lugar de grandezas e desastre inesgotável em termos literários. Gosto de penetrar uma certa ideia feita de Europa, contrastá-la com a dinâmica selvagem das Américas e do mundo. Como uma velha senhora cheia de histórias, esta Europa, que ainda pode ser provocada a novas aventuras pelo ganhar de consciência das suas aventuras e crimes de juventude.
É, paralelamente à escrita, professor. Como convivem as duas “personas”?
Acho que muito bem. Por um lado, o gosto da observação e da comunicação de significado é comum. Embora a literatura funcione para mim pela multiplicação de sentido, é uma forma de democracia. O contraste com a prática das ciências sociais é muito enriquecedor. A ideia de ciência, de querer conhecer, e ainda mais a de ciência social, em que se trabalha com o ator mais volátil, o humano, têm declinações óbvias na literatura. Na minha escrita encontra-se quase sempre nas entrelinhas um diálogo com a ciência.
Pergunto ao José Tavares, para terminar, de onde vem o nome (musical) Gardeazabal?
O nome não tem uma origem mágica. Foi escolhido, entre outros, para permitir pela estranheza uma certa distância entre o escritor e o professor, que é justa e saudável. Depois percebi que era um nome estranho de início, mas que proverbialmente se pode entranhar com o tempo. Um falso difícil. Gosto.


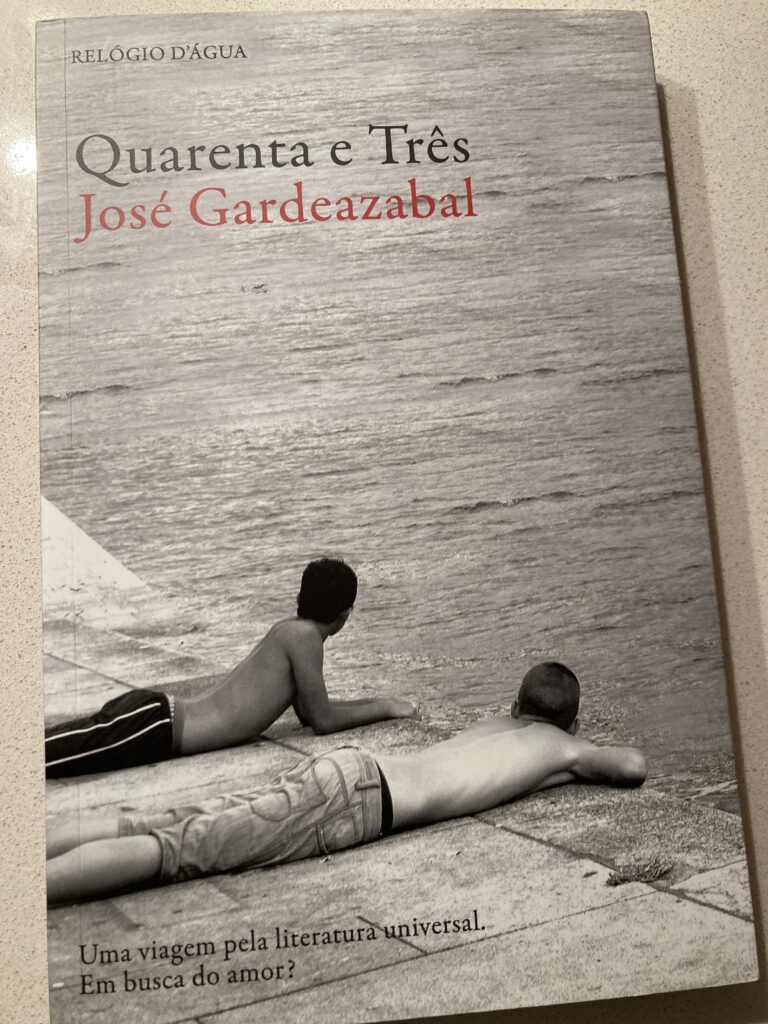
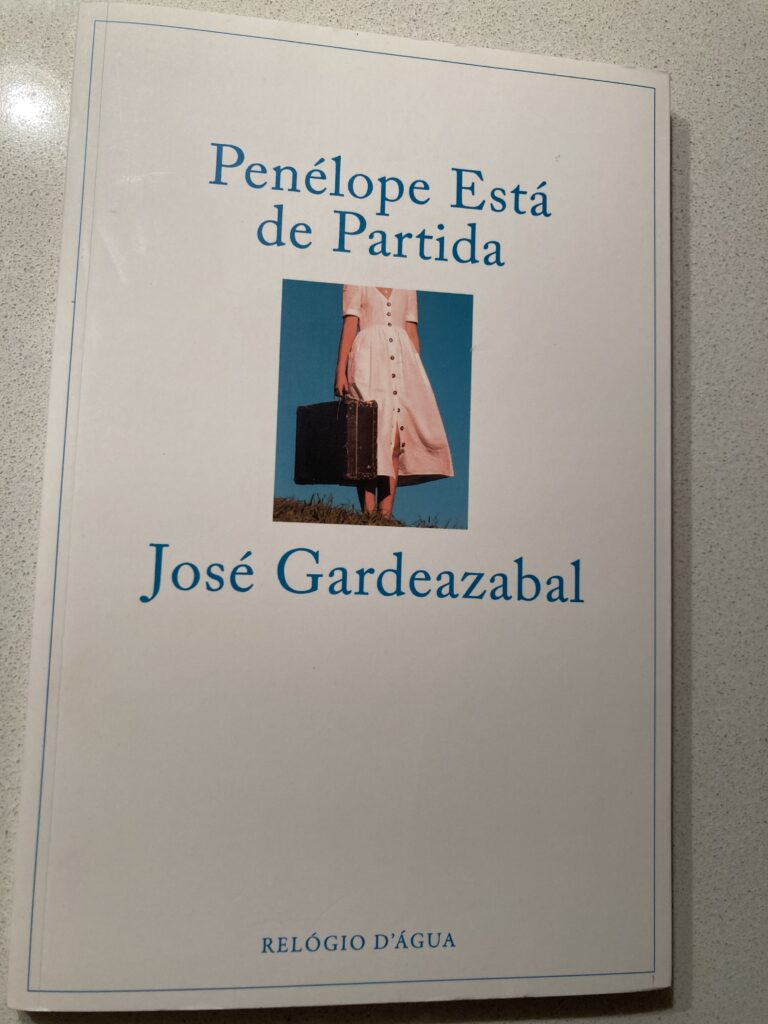
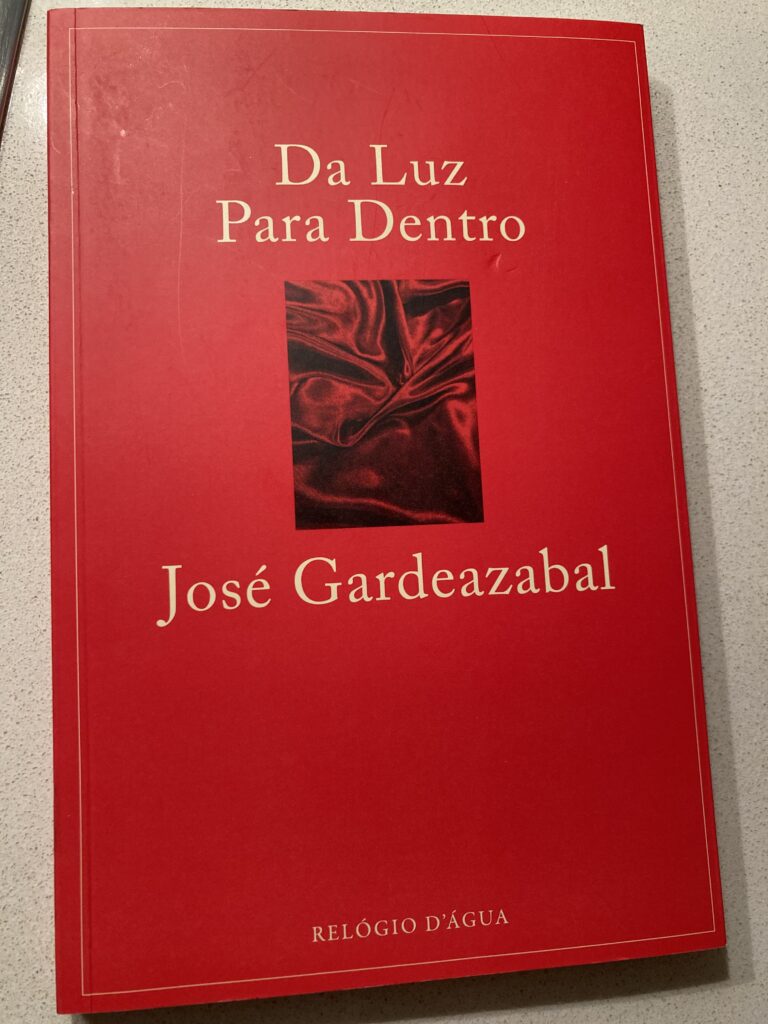







.